| A BIBLIOTECA DO MACUA |
| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| LIVROS & AUTORES QUE A MOÇAMBIQUE DIZEM RESPEITO |
| UNGULANI BA KA KHOSA |
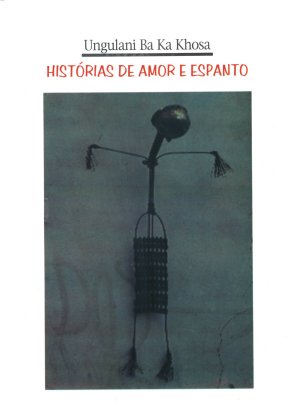
|
PREFÁCIO O Terceiro Espanto O exímio fazedor de histórias que aqui apresentamos, decidiu a fechar a sua trilogia através duma obra reebuscada nas gavetas da sua memória, depondo diante de nós, textos de interesse indiscutível, reteve no espaço afectivo do escritor. Uma escrita diferente dessa outra considerada tempestuosa, apocalíptica, mas nem por isso menos significativa, que o escriba nos foi habituando. "Histórias de Amor e Espanto" surpreende pela dimensão humana que se torna presente em cada pedaço de texto, pela sua leveza e profundidade, por essa prodigiosa capacidade de nos conduzir aos dramas interiores que, afinal, a todos nós pertenceram. Méritos suficientes para esvaziar o argumento dos que se esforçarão por nos convencer que uma obra literária se mede, apenas, pela espessura do seu miolo. Dizíamos que o escriba reebuscou nas suas gavetas as histórias que lhe são significantes, transferiu esse passado profano para o presente, pretendendo, certamente, fazer-nos compartilhar um tempo que já não é este tempo e que parece cada vez mais adormecido na memória colectiva. - Só se podem compreender os acontecimentos actuais à luz do passado, diz-se. "Histórias de Amor e Espanto" é apenas isto: quatro maviosos textos que ao longo dos anos desesperanças. Tudo isso escrito há quase uma década, quando Ungulani, titubeante ainda, calcorreava a penosa escada da escrita, nessa delirante busca do seu estilo, da sua "ancoragem". Um tempo em que o escritor se foi procurando, vagueando entre a dor e a alegria que as palavras consentem, mas já consciente que a prosa, a que se pretendente verdadeira, é um exercício maravilhoso de procura! Uma época, enfim, de experiências literárias várias, de influências múltiplas que viriam a enriquecer a sua prosa e, indubitavelmente, a literatura moçambicana! Como o referimos compõem o livro apenas quatro textos, quatro nacos de prosa que simbolizam um tempo em que o país, ainda, se inventava a si próprio. Talvez por isso, e mais do que em qualquer outro período histórico, as dificuldades, as interrogações e incompreensões permanentes, constituíram um cenário que a pena do escritor tentou fixar. "Histórias de Amor e Espanto" são textos dum "tempo em que se chegava à lágrima quando no bolso não havia um só lenço branco". Uma época em que Ungulani Ba Ka Khosa, como escreveria, sentiu a pátria fornificando-lhe. Trata-se, porém, de textos que analizados numa outra prespectiva se podem considerar uma espécie de hino à pátria, pois só que sobre ela escreve e sofre, a pode amar tanto. Eis, pois, a terceira obra de Ungulani, isto é: o nosso terceiro espanto! Marcelo Pangwana |
|
CONFISSÃO AO POETA MARCELINO DOS SANTOS CUJA HISTÓRIA TANTO O INTRIGOU Roubei dois pares de sapatos. É verdade. Eram de qualidade, bonitos, leves, macios. Um era de cor castanha e outro era preto, um preto brilhante como as esculturas em pau-preto. Os meus filhos ficariam satisfeitíssimos se os calçassem. Mas apanharam-me. Não, não sou um ladrão profissional. Não tenho falta de dinheiro. Sou um funcionário. Entro às sete e meia, e saio às doze, volto a entrar às catorze e saio às dezassete. Da última vez que saíram sapatos no mercado, e foi hoje, aliás, não consegui comprar nada, pois a bicha era tão enorme que saía da Sapataria Lorde, percorria o largo passeio, entrava na Av. 25 de Setembro e seguia, rua abaixo, ultrapassando o Banco de Moçambique e contornando a terminal das Linhas Aéreas para desembocar uns metros depois. Eu era dos últimos. Madruguei. As estrelas ainda brilhavam no céu escuro quando me dirigi à bicha. Ela há muito que ultrapassara o Banco de Moçambique. Creio que as pessoas que estavam na bicha faltaram ao trabalho. Muitos dos meus colegas marcaram o lugar na bicha e colocaram-se a uma certa distância do Banco. A sapataria abriu às oito e meia e às onze, após muita confusão e luta, informaram-me que os sapatos tinham esgotado. Só tinham cem pares para venda. A bicha desfez-se, como um bando de pássaros a atirar--se, em várias direcções, reluzindo ao sol. Saí da bicha desolado, triste. Sabia que a minha mulher insultar-me-ia quando chegasse a casa, de mãos vazias, depois de ela insistir que eu dormisse na bicha, logo que vimos os sapatos, à saída do meu trabalho. Eu recusei, afirmando que a bicha não seria enorme porque poucas pessoas sabiam. Ela aceitou com certa relutância o meu argumento. Continuámos a ver as montras, as nossas montras, montras tão mortas que pareciam uma savana, outrora verde, queimada pela seca, com árvores pardas, despidas, nuas, sem vida, caindo ao sabor do vento fraco. Vimos uma barata expondo-se na montra, como manequins que se movem. A minha mulher tinha razão, devia dormir na bicha, talvez conseguisse dois pares de sapatos para os miúdos, os dois rapazes que temos. O mais velho está na primeira classe e não tem sapatos. Graças ao meu vizinho ele pode ir à escola, porque emprestam-nos um par que devolvemos ao meio-dia para que o filho dele possa ir à escola, à tarde. Ontem o meu filho jurou que não mais iria à escola com sapatos emprestados. Queria sapatos novos. A minha mulher chorou. Eu não consegui chorar. Tentei explicar-lhe as dificuldades do país, mas o miúdo interrompeu-me e mandou um porra, afirmando que estava farto de desculpas. Não sei onde ele aprendeu essa palavra. Fiquei estarrecido. Quis bater-lhe. A minha mulher abraçou-me e disse ao miúdo que eu compraria sapatos novos no dia seguinte. É verdade, jurei. O mais novo, que há muito não saía de casa por não ter roupa e calçado, pediu-me camisas e calças além de sapatos. Disse-lhes que compraria tudo. E para confirmar-lhes mostrei-lhes cinco notas de mil meticais. Eles ficaram satisfeitos. A minha mulher sorriu. Foi à cozinha e preparou-nos o jantar. Foi bom. Além do chá tivemos a sorte de comer pão. Os miúdos tomaram três chávenas de chá e comeram quatro fatias de pão cada um. A minha mulher disse-nos que no dia seguinte arranjaria margarina na sua escola, um colega prometera-lhe. Os miúdos dormiram satisfeitos. Ouvia-os ressonar do meu quarto. A minha mulher dormia. Eu não dormi até à madrugada, hora que me levantei, pois via os meus filhos bem nutridos e bem vestidos passeando, de braços dados com os pais, pelas ruas atulhadas de pessoas que cumprimentavam-nos com respeito enquanto outras ciciavam pelas nossas costas que éramos um casal feliz. Depois, enquanto os miúdos se apoiavam na balaustrada da pequena ponte do Jardim Tunduru vendo os peixes vermelhos e azuis e pretos a deslizarem sob as águas que corriam entre as margens construídas, eu beijava a minha mulher e dizia-lhe palavras de amor e sonhávamos com uma casa mais bela, construída por entre um arvoredo denso e com ruelas que se cruzavam constantemente. E os nossos filhos, já crescidos, transpunham a larga varanda da casa, ao cair da tarde, sujos, e olhavam o pai sentado na cadeira de balanço, com um copo de uísque na mão direita, com certa apreensão, pois esperavam da mãe as invectivas de sempre. No dia da mulher, querida; seremos três a encher a casa de tulipas, rosas, cravos e outras flores mais belas. A minha mulher sorria e dizia que nos meus anos ela levaria os miúdos à cozinha e fariam um bolo gigante, semelhante ao nosso bolo de casamento e beijar-me-ia antes de eu apagar as velas, perante os nossos convidados. Fumei um cigarro. Era madrugada. Acordei a minha mulher. Ela teria que ir ao bazar a fim de arranjar peixe ou verduras para o almoço. Os alunos dela teriam borla nesse dia. Eu ia percorrendo a Avenida Ho Chi Min, sentindo o sol a quebrar-me e a revolver as entranhas famintas, saindo depois pelas pernas e fugindo da sombra que eu projectava, quando vi uma indiana, um pouco velha, com cabelos brancos a sobressaírem, em profusão, da pequena cabeça redonda onde salientavam pequenos olhos reluzentes, vivos, castanhos. Devia ter sessenta anos. A pele colara-se aos ossos. Estava sentada, entretida a falar com uma senhora negra, obesa, envolta em capulanas de duas cores. Ao lado da senhora indiana estava um cesto, coberto num dos lados com "sari" que resvalava do corpo magro. Dentro do cesto pude ver meu rosto ardia. Foi o sinal. A multidão que me cercava atirou-se ao meu corpo como uma matilha de cães famintos querendo partilhar um osso. Foram socos, pontapés, bofetadas. Tudo caíu sobre meu corpo que se alargava e contorcia-se como uma larva em locomoção. Uma chapada rebentou-me o lábio inferior. O sangue escorreu, molhou a camisa, contornou o primeiro botão e parou no terceiro. Ao querer limpar o lábio gretado um soco rebentou-me com p queixo, enquanto um pontapé me atirava de borco ao passeio. Foram chegando mais pessoas. Os meus olhos estavam inchados. As imagens dançavam, saltavam, enquanto estrelas cobriam-me a vista. Houve uma voz que se alteou das restantes e propôs chamar um polícia. Não foi preciso carro: um milícia aproximava-se. Levantaram-me. Agarraram-me o pulso direito que chorava de dores. Deixaram de me bater. Mas insultavam-me. Sentia dores por todo corpo. Deviam ser doze horas. Uma turba de miúdos aproximava-se em correria e a gritar: ladrão, ladrão, ladraaão! Houve um que me atirou uma pedra. A pedra bateu-me na face esquerda e escorreu aos saltos, pela camisa cheia de sangue. Virei o rosto. Vi o meu filho no meio da multidão de crianças. Olhámo-nos durante alguns segundos. Vi que fora ele que atirara a pedra. Virei a cara. Comecei a chorar. As lágrimas saíam e misturavam-se ao sangue que escorria pelo corpo. Comecei a sentir dores intensas. O meu filho, encostado a uma árvore, com o calção remendado, a camisa gasta e os sapatos do filho do vizinho nos pés, olhava-me, silencioso. Tinha o dedo polegar metido na boca. Quis dizer-lhe que tinha cinco mil meticais no bolso mas a voz não saía, morria na garganta. Ele olhava-me, de rosto tenso. Talvez quisesse chorar, talvez estivesse envergonhado. Não sei. Quando o milícia se aproximou e atirou a coronha da arma às minhas costas o miúdo desapareceu, cabisbaixo. Chorei como uma criança. As pessoas que estavam à minha volta pediam ao milícia que batesse com mais força enquanto riam e insultavam, como se num circo estivessem. Passados minutos a senhora indiana pediu ao milícia que me deixasse ir embora, pois não tinha cara de ladrão. Ao largar-me, o milícia espumava como um cavalo cansado. 'Vais roubar outra vez? - perguntou o milícia com a bota porca assente no meu rosto tumefacto. Não respondi. A bota saiu do rosto e atirou-se ao estômago com tanta força que levei a cabeça aos joelhos. - Vais roubar outra vez? - perguntou de novo. Calei-me. - Não responde? Quer mais? A bota corria ao longo do meu rosto. Levantei a mão. - O quê? - Não-respondi. - Então vai embora. Da próxima vez vais à esquadra. Levantei-me. Abracei a árvore que estava próxima. Das pessoas presentes não houve uma voz de comiseração. Começaram a dispersar-se. O corpo doía-me. Não tive coragem de ir à casa. Andei à deriva, quase de rastos, ao longo das ruas e avenidas. As pessoas calavam-se à minha passagem. Seguiam os meus passos durante uns metros e recomeçavam a falar como se nada se tivesse passado. Já sem forças sentei-me sobre as ervas daninhas, poluídas e vergastadas pelo vento. O vento que soprava confortava-me. Passados minutos pude fruir a paisagem que se erguia no fundo das barreiras que ficam por detrás do Quartel-General e da Escola Francisco Manyanga. Contemplava com prazer o porto, os navios atracados, a baía, a Catembe e as montanhas que se recortavam, ao fundo, para além da Catembe. Foi a primeira vez que senti um amor profundo à minha pátria. O amor entrou-me com a mesma voluptuosidade que sinto quando estou com a minha mulher, no quarto na cama, à meia-noite, sem ruídos, com as cortinas a dobrarem-se com a aragem do vento, e a luz do luar a entrar no quarto, quebrando a cama, o guarda-fato, as roupas interiores esparsas pelo chão e a porta. É isso. Sorri. Tentei rir. Não consegui. Toquei no queixo. Doía-me. Notei que me faltavam cinco dentes. Levantei-me. Comecei a descer as barreiras, sentindo a pátria a invadir-me, a possuir-me brutalmente, a amar-me, a fornicar-me. |
| Edição de Fevereiro de 1999 |